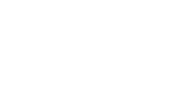Naquela segunda-feira, às cinco da tarde, o canal do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ no YouTube se fez sala escura. A tela acendeu com quatro palavras que soaram como batida na porta da memória: Hertha Meyer sou eu. Mulher, judia, alemã — sua biografia começa na Europa dos anos 30, atravessa a Itália e desemboca no Rio de Janeiro, quando a antiga Universidade do Brasil, hoje UFRJ, erguia espaço para a ciência pública. Foi ali que Hertha encontrou abrigo e transformou a universidade em sua trincheira.
Wanderley de Souza, discípulo e herdeiro acadêmico, não conteve a emoção: “Dona Hertha soube o que é medo. Medo da morte iminente.” A lembrança não fecha um passado; abre três tempos. O dela, nos anos 30, quando o nazismo transformou futuro em fuga. O de 2021, quando a ciência brasileira sangrava sob cortes. O nosso, em 2025, quando recordamos que a memória continua sendo campo de batalha.
No Instituto de Biofísica da UFRJ, Hertha transformou exílio em método. Foi pioneira no cultivo celular e ajudou a desvendar o ciclo do Trypanosoma cruzi — parasita causador da doença de Chagas — a doença do barbeiro. Em termos simples: dentro de uma célula, multiplica-se até romper o tecido e seguir infectando. Seu trabalho repercutiu no mundo todo, embora ela mesma repetisse, com humildade: “Não me chame de doutora, não fiz doutorado.” Tornou-se referência sem precisar de títulos honoríficos.
O filme, porém, não deixa que a cientista esconda a mulher. Débora Foguel, tomada pela emoção, lembrou que Hertha, sem filhos, pedia notícias diárias das crianças dos colegas: “Era nisso que se alegrava.” Tratava Wanderley como filho acadêmico; com Débora, exercia o afeto de uma avó improvisada. Outras cenas completam esse retrato: a bengala nas escadas do Instituto, as férias nos Alpes suíços, o “Nunca mais Alemanha” dito como cicatriz, os chocolates discretamente partilhados.
O debate apenas afinou o que a tela já declarava: memória é disputa. Erika Negreiros disse sem rodeios: “As grandes narrativas históricas nos silenciaram… falar da memória feminina é costurar pedacinhos de histórias fragmentadas.” Recuperar Hertha é enfrentar o peso das estruturas patriarcais que empurraram tantas mulheres ao rodapé da história.
A produção ainda recorda a circulação internacional — como a passagem de Rita Levi-Montalcini pelo Rio, futura Nobel que compartilhou bancada com Hertha. São fios que confirmam: ela pertence a uma história global da ciência, também escrita nos corredores da universidade pública brasileira.
Na altura dos 25 minutos, a pesquisadora Carolina Alves crava a síntese: “Falar da história das mulheres na ciência é disputar narrativas, lutar contra o silenciamento e o apagamento.” A frase atravessa o tempo: em 2021, quando a democracia era contestada por autoritarismos; e em 2025, quando a universidade pública deve permanecer em alerta. É preciso estar atenta e forte, mesmo em novos contextos, para nunca mais esquecer.
O título deixa de ser título e vira espelho: “Hertha Meyer sou eu.” É a cientista exilada; é a professora que acorda cedo; é a estudante de primeira geração universitária; é quem insiste em fazer ciência com brilho nos olhos. Em 2021, o média foi laureado no VII Festival Arquivo em Cartaz – Arquivo Nacional; mas talvez o prêmio maior seja outro: romper o silêncio imposto e devolver às mulheres o lugar que lhes foi negado. Nada está dado: é memória e resistência.
E para deixar-se atravessar pela história, não basta ler aqui. O filme Hertha Meyer sou eu está disponível ao final desta matéria — onde imagens, vozes e silêncios dizem o que esta crônica não tem condições de imprimir.
Texto: Wellington Gonçalves — revisão: Marilia Zaluar Guimarães
A crônica faz referência ao lançamento e debate “Hertha Meyer sou eu”, no âmbito da Cátedra Hertha Meyer de Fronteiras das Biociências, sob a coordenação dos titulares Marilia Zaluar Guimarães e Stevens Rehen, em 26/07/2021, transmitido pelo canal do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ no YouTube. Disponível em: Lançamento e debate “Hertha Meyer sou eu”