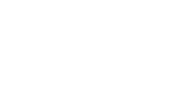A cena é mínima e precisa: uma câmera aberta, o professor em casa, falando direto ao público. Os alunos inscritos acompanham pela sala do Zoom; o restante, pelo YouTube do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Antes de mergulhar no tema, ele se apresenta: professor da Escola de Comunicação da UFRJ, pesquisador dos programas de pós-graduação e nome reconhecido no debate sobre comunicação e capitalismo. “Venho há muito tempo trabalhando com esses temas… e o papel da internet é absurdamente central para o funcionamento do capitalismo que conhecemos”, diz, em tom de quem sabe o terreno que pisa.
A Cátedra Álvaro Vieira Pinto — oferecida pelo Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ (CBAE) — abre com um módulo introdutório: “capitalismo do espetáculo, fetichismo da mercadoria e meios de comunicação”. O objetivo é dar a espinha dorsal teórico-metodológica do curso e apontar as trilhas seguintes; em 31 de maio de 2022, a voz condutora é a de Marcos Dantas.
Dantas começa por uma constatação cotidiana, quase confessionária: “A nossa vida é muito agendada pelo que a gente vê na TV, pelo que ouve no rádio, pelo que está no jornal e, agora, também pelo WhatsApp e pelo Facebook.” O termo de Guy Debord ganha corpo — espetáculo não é “apenas um conjunto de imagens, mas uma relação social mediatizada por imagens” que organiza hábitos, desejos, pausas e reprises do dia. Do barbeiro à sala de estar, “a gente para a atividade para ver uma novela… ou um jogo de futebol.”
Daí ao fetiche, o passo é curto. O professor chama Isleide Arruda Fontenelle para a conversa — e a frase que fisga o leitor: “Não basta tomar refrigerante, tem que ser Coca-Cola… não basta comer hambúrguer, tem que ser McDonald’s.” O nome — a marca — torna-se o objeto de desejo. “A marca parece perverter o próprio fetiche… uma espécie de fetichização do fetiche.” Em linha com Fontenelle, a marca radicaliza o processo: as pessoas deixam de se referir às coisas e passam a se referir às imagens das coisas. No limite, aquilo que antes era atribuído a forças divinas, hoje se chama “mercado” — onipresente e sem rosto.
A marcha do raciocínio encaixa Marx no presente. Se o capital se multiplica pela rotação, convém reduzir ao mínimo os intervalos entre produção, circulação e realização. “Quanto mais esse tempo tende a zero… tanto mais rápida a rotação do capital e maior a massa anual de mais-valor”, recorda Dantas. “Hoje vivemos em um tempo tendendo ao limite de zero — sobretudo nas etapas digitalizadas proporcionadas pela internet.” A informação, que antes acompanhava a mercadoria em seu percurso, agora se antecipa a ela — constrói desejos antes mesmo do produto existir. É esse encurtamento radical que redefine a economia: distâncias se dissolvem e decisões se precipitam em ritmo acelerado.
Para entender quem manda nesse jogo, Dantas aciona a ideia de corporações-rede: empresas cuja inteligência (P&D, marketing, design) pulsa em um núcleo e cuja produção se espalha em cadeias globais, enquanto a marca, por cima de tudo, organiza pertencimentos e preferências. O que se vende, repete ele, é o nome. O consumo, cada vez mais apoiado em signos e estilos de vida, transforma a diferença estética em valor.
É aí que a sociedade do espetáculo encontra sua engenharia econômica. O professor não foge da polêmica que vem da economia política da comunicação: o que a TV vende é audiência. “O que interessa ao anunciante é aquele milhão que está na frente da tela.” Há um trabalho semiótico do público — atenção, tempo, interpretação — que entra no circuito de valorização. Na tradição crítica, esse público é concebido como mercadoria; na prática do mercado, as métricas — como cliques e engajamento — funcionam como moeda. “Mesmo quem discorde da formulação, percebe o deslocamento: no mercado das telas, o olhar coletivo se converte em referência de valor e unidade de troca.”
O fio segue: quando a utilidade de muitos bens passa a ser estética — “gerar emoção, sentimento” — o espetáculo encurta ainda mais o giro: eventos e lançamentos têm vida útil instantânea, projetando a próxima onda enquanto a anterior ainda reverbera. A publicidade ensaia sua paráfrase da arte; o design assume o centro; e o capital, para acelerar consumo e reposição, aposta numa cultura do descartável, como lembram leituras que Dantas convoca no percurso.
No fundo, o diagnóstico mira a transformação do próprio material de trabalho: signos. “A mercadoria é também signo”, lê Dantas, para então recolocar o problema em 2022: em vez de apenas produzir objetos, produzimos projetos, marcas, experiências — informação que, ao ser registrada, processada e comunicada, compõe a base do que ele chama de capitalismo informacional.
Quando ele convoca “transportes e comunicações”, não há figura de linguagem: é chão e é símbolo. De um lado, navios, aviões e rodovias — indústrias cujo valor de uso é o próprio movimento e cuja “mercadoria” se consome no ato, durante o processo. De outro, data centers, telégrafo, rádio, TV e redes, que fazem a informação correr à frente da mercadoria, encurtando o tempo de rotação do capital. Por isso, não são adereços: em parte prolongam o processo produtivo (caso do transporte necessário à realização do valor) e, em parte, compõem funções de circulação que encurtam prazos e coordenam fluxos.
Daí à internet, o passo é lógico: “quanto mais esse tempo se aproxima de zero, tanto mais o capital se valoriza”, lembrou o professor — e a rede é a realização mais aguda desse limite. Hoje, os chamados “jardins murados” — ecossistemas fechados, aparentemente abertos, mas vigiados, regulados e que concentram dados, distribuição e mensuração sob regras próprias — comprimem a infraestrutura material e a mediação simbólica do desejo, como se anulasse o espaço pelo tempo: do anúncio ao clique, do clique à entrega, quase sem fricção.
Chegamos, enfim, às plataformas sociodigitais — não só digitais, insiste, porque “são produtos da sociedade e agem na sociedade”. No ambiente em rede, a compressão do tempo se torna regra operacional; o capital precisa de meios de comunicação para gestão, trânsito financeiro e produção de público. E é pela mesma via que o retorno chega, em forma de dados, cliques, indicadores e vendas.
A cena se fecha, de propósito, na sua televisão ou no seu celular: ao ver o gol brilhante, o olho vai ao lance — mas é a marca que captura o desejo, insinuada na vinheta e explícita nas placas que cercam o território.
No debate que se seguiu, as perguntas do público puxaram o fio para questões de hoje: a propriedade intelectual, cercada pelas plataformas; a vigilância, que busca predizer e modelar comportamentos antes mesmo que surjam; a democracia, atravessada por algoritmos que decidem o que circula. Dantas respondeu sem perder o compasso: “O capital precisa saber o que você vai desejar antes mesmo que você saiba.” O comentário, seco e preciso, funcionou como síntese da noite.
Essa aula — densa, segura, didática — inaugurou o curso “Capitalismo de Plataformas: Financeirização e Apropriação da Cultura, do Conhecimento e das Comunicações”, que se desdobra em diferentes campos e práticas sociais sob olhar crítico sobre como o capital financeiro e as tecnologias digitais reconfiguram produção e consumo.
No Aconteceu do CBAE, cabem as aulas que ressoam para além do instantâneo. Esta ressoa. Porque, na voz ora calma ora enérgica que sobe e desce ao explicar conceitos, Dantas reata dois pontos do nosso tempo: o feitiço (a mercadoria que encobre as relações) e a tela (o espetáculo que organiza a vida), sob a lógica das plataformas (onde ¹o capital realiza seu ideal antigo: fazer do tempo um quase nada). Não é metáfora: é método. E, como feitiço, também é alerta.
Texto: Wellington Gonçalves Revisão: Marcos Dantas
A crônica faz referência à aula Capitalismo do Espetáculo, Fetichismo da Mercadoria e Meios de Comunicação, parte do curso Capitalismo de Plataformas, ministrada em 31/05/2022 e transmitida pelo canal do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ no YouTube. Disponivel em: Transmissão YouTube – Aula Capitalismo do Espetáculo, Fetichismo da Mercadoria e Meios de Comunicação.
¹A formulação “o capital realiza seu ideal antigo: fazer do tempo um quase nada” condensa, em chave ensaística, a tese de Marx sobre a redução do tempo de circulação (cf. O Capital, Livro II). Trata-se de extrapolação crítica: Dantas observa que o tempo tende a zero nas etapas digitalizadas, mas não afirma literalmente a realização desse “ideal”.