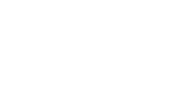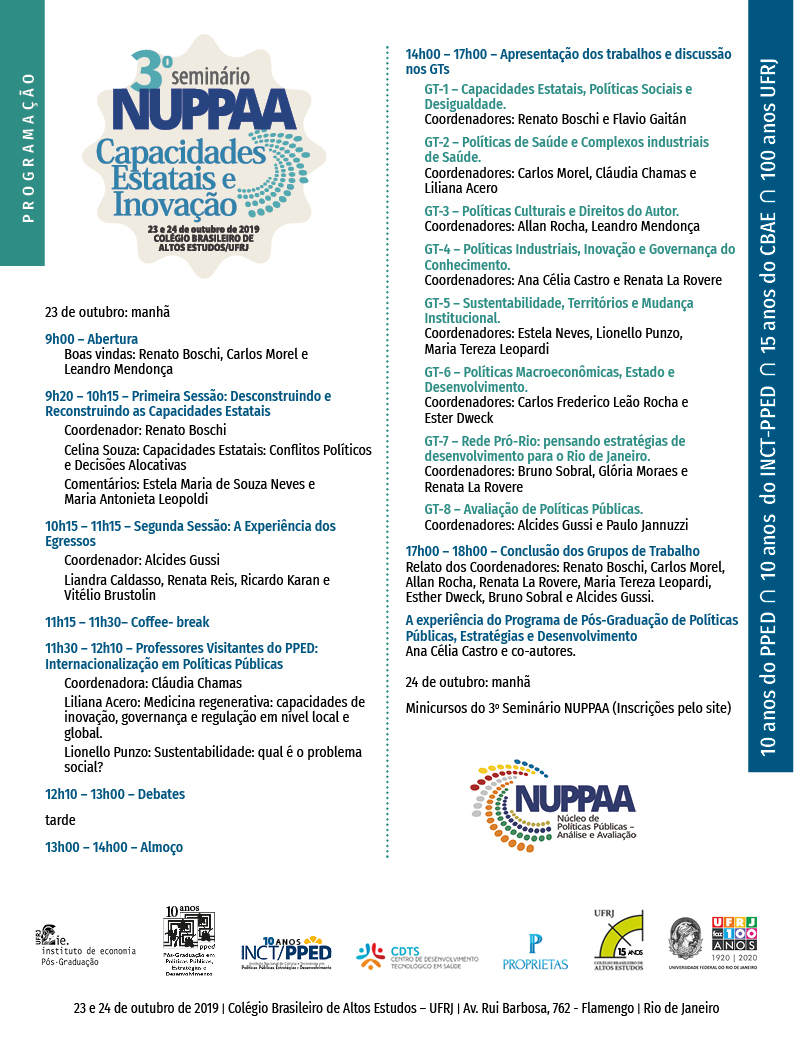Governo omisso e racismo ambiental: o que as manchas de óleo revelam sobre o Brasil atual
Fórum reúne pesquisadores e ativista para debater o derramamento de óleo no litoral do país
Há mais de dois meses, o litoral brasileiro vêm sofrendo com o derramamento de petróleo cru que já atingiu 111 municípios de todos os nove estados do Nordeste e do Espírito Santo. Diante do grave desastre, o Fórum, em parceria com a COPPE/UFRJ, reuniu especialistas, ativistas e a comunidade acadêmica com objetivo de debater e pensar caminhos para reduzir os impactos do problema. O evento faz parte do curso Desastres e Mudanças Climáticas e aconteceu na sede do Fórum, no Flamengo. Entre as questões levantadas, os pesquisadores destacaram a inação do governo, a falta de articulação estratégica entre setores e a necessidade de aproximação entre universidade e sociedade.
O vazamento de petróleo é mais um desastre ambiental que entra para a lista dos ocorridos recentemente no país. Entre os últimos estão o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, os deslizamentos de encostas na região da serra fluminense e os incêndios na Amazônia. O óleo cru apareceu pela primeira vez em 30 de agosto, mas sua origem ainda é desconhecida. O que se sabe é que foi despejado na fronteira entre Sergipe e Alagoas, em uma área distante da costa brasileira entre 600 km e 700 km. A descoberta foi feita pelos pesquisadores do Laboratório de Métodos Computacionais e Engenharia (Lamce), vinculado à COPPE, com o uso de satélites, computação avançada e modelos matemáticos.
Ao longo do debate, os participantes criticaram a omissão do governo diante do problema. A demora para iniciar as ações tem se tornado frequente. Autoridades têm adotado o modo emergencial em prol de práticas preventivas de monitoramento que, segundo os pesquisadores, deveriam ser consideradas. “A universidade tem profissionais e tecnologia suficientes para atuar”, assegurou Luiz Landau, professor e pesquisador da COPPE e coordenador do Lamce. A capacidade das universidades e centros de pesquisa é comprovada há anos. Segundo os professores, o problema central é de natureza política. “O que o governo fez foi uma omissão, ele tem uma atitude antiambientalista, faz afirmações absurdas e descabidas”, criticou o ex-diretor da COPPE, Luiz Pinguelli Rosa. “Há uma falta de percepção de que não há desenvolvimento econômico se a gente não ligar para o meio ambiente”, afirmou a vice-reitora da COPPE, Suzana Kahn.
Para Tatiana Roque, coordenadora do FCC, torna-se mais difícil encontrar medidas razoáveis de prevenção e contenção de danos em um cenário político como o atual. “Estamos vivendo uma situação urgente em tempos que não são normais. Um período em que o governo é negacionista e que a gente tem as autoridades contra o discurso oficial da ciência”, afirmou.
Rodrigo Leão de Moura, professor do Instituto de Biologia da UFRJ, pesquisador da COPPE e coordenador da Rede Abrolhos, questionou o discurso do governo federal de que não havia mais o que fazer após o vazamento a não ser esperar: fala que, segundo ele, “comprova a postura de conveniência e falta de interesse” por parte das autoridades. O biólogo defendeu que eventos com essa proporção deveriam mobilizar todos os setores, em atuação conjunta: órgãos públicos, iniciativa privada e voluntários. “De 30 de agosto até hoje a resposta tem sido para lá de medíocre”, afirmou o pesquisador.
Moura citou ainda a data da primeira nota publicada pelo Ibama (25 de setembro) referindo ao acidente, quase um mês depois da primeira aparição do óleo e quando mais da metade do litoral do nordeste já havia sido afetada. Mais recentemente, o óleo atingiu o Banco de Abrolhos, no sul da Bahia. Com uma das maiores biodiversidades marinhas do mundo, a reserva já sente os impactos, que reverberam também nas comunidades locais. “25 mil famílias dependem da saúde daquele ecossistema [de Abrolhos] para sobreviver”, revelou Moura, lembrando que atividades como a pesca tornam-se inviáveis com a contaminação do mar.
“Não é acidente, é crime. Eles sabem o que estão fazendo”

“A chegada desse óleo não é surpresa”. É o que afirma Eliete Paraguassu, pescadora quilombola da Ilha de Maré (BA) e integrante da Articulação Nacional das Pescadoras e do Movimento de Pescadores e Pescadoras. “Eles dizem: foi um acidente. Não é acidente, é crime. Eles sabem o que estão fazendo” assegurou a marisqueira, para quem a questão revela outros problemas de ordem econômica e social. A costa baiana conta com inúmeros poços de petróleo, tendo a segunda maior bacia do país em volume de barris e a produção provoca reflexos nas dinâmicas das comunidades tradicionais localizadas no litoral do estado (disputas territoriais, desastres ambientais). “A gente sabe que existe um racismo ambiental. Quem vive ali [na Ilha de Maré] são pessoas negras, índias e esses corpos não importam. A carne mais barata é a carne negra e isso se configura nessa comunidades tradicionais”.
Além de ser fonte básica de renda, a pesca define o modo de vida e a cultura desses grupos vítimas que sofrem o impacto direto do desastre. “A gente está falando de pessoas. São toneladas de petróleo que estão assentadas nos estoques pesqueiros dessas comunidades. Elas são as guardiãs desses territórios”. Ao falar do vínculo profundo com os recursos naturais, a pescadora explicou: “É a natureza que determina a hora que a gente vai, a hora que a gente vem. Essa relação não pode se perder em nome de dinheiro e desenvolvimento”, referindo-se ao inúmeros poços de extração de petróleo instalados próximos à região. Para a quilombola, há um silenciamento das comunidades tradicionais por parte da sociedade e da mídia. “São eles [pescadores] que estão coletando todo o lixo. E não fomos nós que jogamos no mar. A gente vai continuar jogando nossos corpos para tirar esse óleo, porque é nossa fonte de renda. Se esse óleo chegar, são 15, 20 anos para o sistema se recompor”, lamentou Eliete.
O que fazer?
Além do Plano de Plano de Contingência Nacional (PNC), que, segundo os especialistas deveria estar sendo seguido, é preciso aproximar a universidade da sociedade e assim mobilizar a população. “É nosso papel tentar o máximo possível transmitir o nosso conhecimento e trazer um número maior de pessoas para perto de nós”, lembrou Suzana Kahn. É o que o Fórum tem tentado fazer, segundo Tatiana Roque: concretizar a aproximação entre academia e sociedade, em iniciativas como o próprio evento e o curso, que tem como objetivo final elaborar uma agenda de ações acerca das mudanças climáticas.
A reinclusão dos membros das sociedades tradicionais nas ações e projetos da academia também são vistos como estratégia crucial. “Quem conhece realmente o mar é quem vive no mar”, afirmou Landau. “Enquanto acharem que comunidades tradicionais não podem contribuir nessas pesquisas, a gente vai ter dificuldade. Se a academia não estiver a serviço da natureza e das pessoas de fato, não serve”, completou.
Eliete revelou que já há relatos de famílias passando fome e que o estado é de crise e garantiu que sem posicionamento e ação por parte dos diferentes setores da sociedade, o quadro é irreversível: “Se a gente não fizer essa luta e defender esse território, vão tomar esse lugar da gente. O Movimento de Pescadores vai continuar ocupando e denunciando, porque é isso que nos cabe. A luta pelo meio ambiente não é só nossa. Vocês precisam enquanto povo da cidade, também fazer essa luta. A gente é que fica na ponta cuidando do meio ambiente para vocês. E a sociedade não fala sobre isso”.
Reportagem: Victor Terra
Fotografia: Eneraldo Carneiro