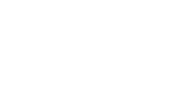Saúde dos sistemas marinhos
A segurança alimentar é um dos principais desafios da nossa atualidade. Para resolver os problemas relacionados a segurança alimentar são necessárias ações relacionadas ao i. entendimento da biodiversidade e biotecnologia marinha, ii. aquicultura e pesca, e iii. uso sustentável dos recursos marinhos. É fundamental entender melhor as áreas pesqueiras e de alta biodiversidade e endemismo no Brasil, tais como, o novo sistema recifal amazônico (ao largo dos estados do Pará e do Amapá), onde se encontram os maiores recifes e a principal região de pesca marinha brasileira (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00142/full). É evidente a atual vulnerabilidade dos sistemas aquáticos e marinhos brasileiros e a relativa complacência de certos segmentos da academia frente a desastres recentes (Thompson et al. 2019). Mais ainda, como não existem barreiras que separam os oceanos, eventos e ações de qualquer natureza impactam a curto e médio prazo todos os oceanos, portanto todos os países. Por exemplo, o episódio recente de derrame de petróleo, de origem desconhecida, na costa brasileira que afetou recifes altamente relevantes para a nossa biodiversidade. Embora tenham grande potencial para a bioeconomia, vastas regiões recifais estão vulneráveis devido a ação humana. Abrolhos foi recentemente atingido pela lama de rejeito do Rio Doce (Francini-Fo et al. 2019) e por manchas de óleo. Além disto, a região vem sofrendo com a poluição local e pesca descontrolada. Estudo de grupo internacional lista os recifes de Abrolhos como prioridade para conservação global porque mudanças globais seriam menos severas nos recifes brasileiros (Huegh-Guldberg et al. 2019, 2018, 2019). É fundamental desenvolver sistemas de monitoramento marinho (biosensores) e metodologias que permitam valorar os recifes brasileiros, como por exemplo, nos moldes do que tem sido feito com sistemas florestais (Cunha et al. 2014).
O oceano global representa aproximadamente US$ 3 trilhões da economia global por ano, ou 5% do PIB global. 40% dos oceanos estão sendo afetados incisiva e diretamente por atividades humanas, como poluição e pesca predatória, o que resulta, principalmente, em perda de habitat, introdução de espécies invasoras e mudanças na qualidade de água. O oceano global representa norme potencial para gerar riqueza que ainda é pouco explorado. O novo painel denominado Building a Sustainable Ocean Economy (https://oceanpanel.org/) das Nações Unidas pretende desenvolver soluções para melhorar a saúde e riqueza dos oceanos em termos de educação, política, governança, tecnologia, e economia sustentável do oceano global (http://www.agenda2030.com.br/). O Brasil possui vasta região marinha, de aproximadamente 2 5.7 milhões de Km, denominada Amazônia Azul. Esta região é rica em biodiversidade que poderia ser usada na biotecnologia e bioeconomia através de inovações nas ômicas, cultivos (fazendas marinhas) e pela engenharia (e biologia sintética). Embora, o Brasil detenha vasta região marinha, a produção aquícola nacional (800 mil toneladas/ano) é praticamente toda originada do continente, em contraste com outros países como Japão, China, e Noruega, onde há intensa produção no mar.
Biotecnologia marinha e a implantação de fazendas marinhas
A biotecnologia marinha voltada para o desenvolvimento de produtos e processos produtivos no mar. O desenvolvimento da aquicultura pode contribuir para a inovação e para a geração de novos postos de trabalho. Em países desenvolvidos, como nos EUA, são formados aprox. 50 mil doutores anualmente, mas apenas ~5 mil posições acadêmicas são criadas em instituições de ensino e pesquisa neste país. Portanto, novas opções de postos de trabalhos são necessárias, incluindo start-ups, industria, consultorias, e jornalismo. Produtos da biodiversidade marinha, como proteínas (enzimas), e vitaminas podem ser fonte para inovação, e para atacar problemas relacionados aos objetivos de desenvolvimento sustentável (http://www.agenda2030.com.br/). Por exemplo, algas e microalgas marinhas possuem enorme potencial econômico como fonte de biomassa para a produção de alimentos, rações, remédios, produtos químicos e biocombustíveis. A composição química das microalgas marinhas é comparável com a da soja, contendo altos níveis de proteínas. Entre os ácidos graxos produzidos pelas microalgas, os poliinsaturados das famílias ω-3 e ω-6 são de particular interesse como, por exemplo, os ácidos graxos eicosapentaenóico (EPA; C20:5) e docosahexaenóico (DHA; C22:6), que possuemefeitos benéficos no combate à diversas doenças e sub-nutrição. Embora exista enorme potencial para o uso da biodiversidade marinha na bioeconomia, apenas poucos exemplos de drogas de origem marinha (Thompson et al. 2017). Exemplos incluem i. Trabectedin (Yondelis), um antitumoral derivado de um tunicato, ii. Vidarabine, um antiviral derivado de esponja, iii. Cytarabine, antileucemia, derivado de esponja, e iv. Ziconotide, um analgésico derivado de lesma. Estudos recentes envolvendo ômicas tem demonstrado que os micróbios simbiontes destes organismos marinhos são os produtores destas substâncias terapêuticas, abrindo a possibilidade de produção de componentes terapêuticos a partir de fermentações. A Amazônia Azul apresenta enorme potencial para a inovação e a produção aquícola. Entretanto, apenas ínfima parcela da região marinha brasileira é empregada para a produção de alimentos e componentes da biota marinha (camarões no nordeste e ostras em Santa Catarina). A maior parte da produção aquícola brasileira (~90%) vem do continente através da produção de peixes de água doce (por ex. tilápias e peixes redondos) (https://panoramadaaquicultura.com.br/aquicultura-no-brasil-principais-especies-areas-de-cultivo-racoes-fatores-limitantes-e-desafios/). O cultivo de peixes em fazendas marinhas oferece excelente oportunidade para ampliar a produção no mar (Bezerra et al. 2016) e preservação dos recifes. A produtividade destes cultivos é elevada, podendo chegar a 15Kg de peixe/m3. Uma fazenda de 12 hectares pode produzir 500 toneladas de peixe por ano. Mesmo em sistemas menos intensivos, é possível garantir a segurança alimentar para as comunidades costeiras de pescadores, evitando assim, que seja realizada a pesca nos recifes. As pescarias vêm sofrendo redução na região de Abrolhos e alternativas são necessárias para garantir a segurança alimentar de populações vulneráveis. Entretanto, estas fazendas marinhas precisam ser instaladas em áreas cuidadosamente selecionadas, que não afetem os sistemas marinhos (ex. mangues, recifes), e que apresentam alta qualidade de água, além de acesso a energia elétrica, insumos necessários para a sua pronta manutenção e logística. Poluentes podem reduzir a produtividade de peixes e mesmo causar quebra de safra, levando ao colapso da atividade. Uma alternativa para contornar o problema relacionado a poluição seria o desenvolvimento de sistemas agroecológicos (=recifes artificiais) em áreas severamente impactadas por poluentes industriais. A recuperação da biodiversidade e dos recifes já existentes em Abrolhos e que foram formados há milhares de anos naturalmente poderia ser facilitada pela implantação de sistemas agroecológicos. Recifes artificiais são mais resilientes as variações aos parâmetros físico-químicos e biológicos da água, permitindo reciclagem de poluentes através do aumento acentuado da biodiversidade marinha (Lima et al. 2019). Após aprox. 3 anos de instalação destes sistemas há aumento significativo na abundância de organismos bentônicos (tais como esponjas, tunicados, pepinos do mar, e corais) e de peixes (Lima et al. 2019). A biodiversidade pode ser empregada para diferentes aplicações biotecnológicas no contexto da bioeconomia marinha (Thompson et al. 2018). Embora exista tecnologia disponível para implantação de fazendas/sistemas agroecológicos marinhos, e de mercado consumidor interno, ainda são necessários estudos de escala e de localização de empreendimentos no mar (Cosenza et al. 2015; Nobre et al. 2007). Inovação no monitoramento de poluentes em sistemas marinhos da Amazônia Azul Petróleo é lançado nos oceanos (>600mil toneladas/ano) naturalmente ou devido a incidentes de derrame (Hazen et al. 2016). Derrames de petróleo são comuns, tais como: i. 3700 barris derramados em novembro de 2011 na Bacia de Campos pela Chevron, ii. 5 milhões de barris derramados em Abril de 2010 no Golfo do México pela BP, e iii. 8169 barris derramados em Janeiro de 2000 na Baia de Guanabara pela Petrobras. Dois incidentes aconteceram este ano no Brasil. Em Abril 2019, as praias da região dos Lagos Fluminense (Arraial,Cabo Frio e Búzios) foram atingidas por óleo muito denso (https://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2019/04/04/oleo-preto-e-denso-no-mar-de-arraial-buzios-e-cabo-frio-rj-sera-analisado-ha-suspeita-de-ser-petroleo.ghtml). A Petrobras parece ter assumido a responsabilidade por este incidente no RJ. No final de agosto de 2019 manchas de petróleo pesado começaram a aparecer nas praias da Paraiba e Sergipe. Subsequentemente, as manchas se espalharam para mais de 500 localidades em Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Espírito Santo e no Rio de Janeiro (https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/10/08/lista-de-praias-atingidas-pelas-manchas-de-oleo-no-nordeste.ghtml). Já foram coletadas pelo menos 370 toneladas de resíduos nas praias nordestinas, principais afetadas pelo derrame, incluindo pelo mais de dez áreas marinhas protegidas. Vale destacar a chegada de petróleo no Banco de Abrolhos, o maior sistema recifal do Atlântico Sul. O petróleo pode sofrer biodegradação (processo natural de biorremediação) no ambiente marinho (Hazen et al. 2016). O petróleo é biodegradado pela ação microbiana (Appolinario et al. 2019). Microrganismos presentes no sedimento marinho e na coluna de água dos sistemas marinhos costeiro e oceânico são capazes de degradar petróleo sob diversas condições ambientais (Appolinario et al. 2019; Campeão et al. 2017). Além desta capacidade natural dos sistemas marinhos, há estudos que sugerem o uso de dispersantes químicos (por ex. o Corexit https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_Deepwater_Horizon_oil_spill) para conter o espalhamento do petróleo. Aprox. 3 milhões de litros de dispersante da BP foram usados no acidente no Golfo do México em 2010 para evitar que o petróleo chegasse a costa (Paris et al. 2018). O dispersante não estimula a biodegradação em águas profundas das Bacias de Barreirinhas e da Foz do Amazonas (Campeão et al. 2017). Outros estudos sugerem que o dispersante seria tóxico para a vida marinha e para o processo de biodegradação (Kleindienst et al. 2015).
Portanto, é relevante monitorar os poluentes no mar, e processos de biodegradação (processo natural de biorremediação) e toxicidade de dispersantes na biota (corais, peixes, e outros organismos) e microbiota marinha para fornecer conhecimento para tomada de decisões. O Petróleo acumulado nos sistemas marinhos (coluna d ́água, sedimento, recifes) causa diversos impactos e prejuízos. Estudos pioneiros na Bacia de Campos demonstraram que em condições controladas de laboratório, as taxas de biodegradação são similares ao longo da coluna d ́água quando comparamos superfície, máximo de clorofila (80 m) e fundo (1200 m) na Bacia de Campos, após aprox. 30 dias (Appolinario et al. 2019; Campeão et al. 2017). Entretanto, as taxas de biodegradação em outras localidades, tais como no nordeste brasileiro, ainda não são conhecidas. Também não se sabe quanto tempo leva para ocorrer a biodegradação de petróleo em sedimentos de praias e recifes brasileiros. Estudos no Golfo do México mostraram que grande parte do petróleo derramado no acidente de Macondo (pela BP em abril de 2010) foi depositado nas proximidades (<8 km) da cabeça do poço e contaminou uma área de aprox. 3200 Km2 no entorno (Valentine et al. 2014). Após 4 anos, aprox. 75% dos alifáticos (com mais de 29 carbonos) e 25% dos aromáticos (com mais de 14 carbonos) ainda persistiram nas amostras de sedimentos, pois a massa molecular e a estrutura de hidrocarbonetos influenciam as taxas de biodegradação (Bagby et al. 2017). A degradação progressiva é mais lenta com o aumento da massa molecular, número de anéis e ramificação alcil. Não se conhece a cinética de biodegradação de petróleo em sedimentos ricos em carbonato, como é o caso de sedimentos de Abrolhos.
O Banco de Abrolhos (45 mil Km2) se localiza na plataforma continental no sul do Estado da Bahia. Os recifes de Abrolhos (aprox. 22 mil Km2) ocorrem em regiões rasas e mesofóticas, sendo constituídos especialmente por corais, rodolitos, e outros organismos carbonáticos (Francini-Fo et al. 2013). Embora algumas matérias jornalísticas recentes argumentem que os corais teriam a capacidade de degradar petróleo, ainda não há comprovação científica que embase tais afirmações. Ao contrário, não se sabe se corais e outros organismos construtores de recifes poderiam sequer tolerar pequenas concentrações de petróleo, seja pela toxicidade direta de componentes do petróleo (por ex. BTEX), seja pelo efeito físico do petróleo sobre esta biota bentônica. Também não se sabe como o petróleo e outros poluentes afetam as teias ecológicas e a sustentabilidade das pescarias (Silveira et al. 2017). A pesca e o turismo são atividades econômicas importantes para as comunidades desta região de Abrolhos, podendo gerarvulnerabilidade em desastres de derrame de petróleo. Porém, não há estudos sistematizados em condições controladas de laboratório, e no campo, que avaliem o destino do petróleo e de outros poluentes em corais e outros componentes da biota de Abrolhos.
Biosensores (metagenomas) são sistemas biológicos que reconhecem, detectam e quantificam a presença de poluentes no ambiente, na biota, e em processos industriais. O metagenoma prediz quantitativamente a poluição e os processos biogeoquímicos (Gregoracci et al. 2012; Smith et al. 2015). Estes biosensores servem como impressão digital do ambiente e até mesmo para fins de investigação forense. Portanto, servem como alerta precoce de mudanças dos sistemas marinhos. Também podem ser empregados no estudo da biota marinha (por ex. corais, peixes, esponjas, e rodolitos). Os biosensores respondem rapidamente aos poluentes na água (Appolinario et al. 2019). Mesmo para as frações mais voláteis dos hidrocarbonetos (BTEX) que tem naturalmente presença efêmera no meio marinho, os biosensores funcionam muito bem. A presença destes voláteis influencia no perfil dos biosensores e portanto, é possível detectar a presença dos poluentes. É importante detectar estes poluentes voláteis pois são bastante tóxicos para a biota marinha. Porém, nem sempre é conhecida a natureza dos poluentes, e análises do DNA ambiental podem nestes casos servir como uma ferramenta forense. No episódio de derrame de rejeito da mineração da Vale-Samarco em Mariana no Rio Doce, foi possível detectar o aumento de genes ligados a ciclagem e degradação de aminas, embora não fosse explicita a presença destes floculantes no rejeito (Cordeiro et al. 2018). Mais tarde a empresa informou que teria usado aminas como floculante nos reservatórios. Em outro exemplo, foi observada alta abundância de genes ligados a degradação de agrotóxicos em áreas de agricultura, comparadas com áreas protegidas do Parque Nacional Serra do Orgãos (Lopes et al. 2016). Estes estudos demonstram claramente que os biosensores (metagenomas) servem como ferramentas para acessar a saúde ambiental e serão úteis para o monitoramento da Amazônia Azul.
Existe evidente necessidade de biosensores que permitam monitorar a Amazônia Azul no contexto do One Health (Saúde Única). Os biosensores podem ser empregados para o monitoramento de diferentes tipos de poluentes, incluindo poluição orgânica (efluentes domésticos e sanitários) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31059870), rejeitos de mineração (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896971934015X), e hidrocarbonetos (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30901643). Como não existem barreiras que separam os oceanos, eventos e ações locais e globais de qualquer natureza impactam a curto e médio prazo todos os oceanos e, portanto, todos os países. Vários aspectos sócio-econômicos e a segurança alimentar podem ser afetados negativamente pela falta de um plano para o uso sustentável da nossa Amazônia Azul. Assim, é urgente o desenvolvimento de um plano que permita melhorar a sustentabilidade do meio marinho brasileiro.