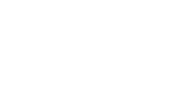INSCRIÇÕES ABERTAS
Conjunto/Seminários CeLapes – PPGSA/CBAE/UFRJ + UNISO
APRESENTAM
Educação Superior, Modelos Institucionais e Democratização
5 MAR A 11 JUN DE 2026
Apresetação:
O curso visa discutir as tendências da Educação Superior na situação atual de incertezas e reorganização da vida acadêmica. Um mundo marcado pela confrontação política, pela ruptura tecnológica, pelas pressões demográficas, propõe desafios importantes aos modelos institucionais de funcionamento da Educação Superior, redefinindo cursos, formas didáticas, modos de qualificação e certificação. Neste quadro, o curso propõe discutir questões relativas ao sentido socialmente atribuído à Educação Superior no século XXI, compreendendo desde a definição do que é superior na Educação Superior e como os diferentes grupos sociais estabelecem diferentes perspectivas e usos para esse nível de ensino.
Coordenação:
Maria Ligia Barbosa:
Titular da Cátedra Carlos Hasenbalg, do Colégio Brasileiro de Altos Estudos (CBAE/UFRJ), onde coordena os projetos de pesquisa sobre Educação Superior na América Latina (CeLapes). Professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde coordena o LAPES (Laboratório de Pesquisa em Ensino Superior/UFRJ/CNPq). Membro do Conselho Diretor da Society for Research into Higher Education (SRHE) Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais (1977) e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas (1993). Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia da Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: desigualdades sociais, hierarquias sociais, ensino superior e profissões, politicas públicas. Vice-Presidente para América Latina do RC04 – Sociology of Education – da ISA (International Sociological Association) 2010-2014 e 2014-2018. Vice Presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia 2015-2017.
André Pires:
Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Sorocaba (Uniso) e membro do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Políticas de Educação Superior – GEPES. É membro do Laboratório de Pesquisa em Ensino Superior (Lapes) e vice coordenador do Centro Latino-Americano de Pesquisa em Educação Superior (Celapes) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). É bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq. Desenvolveu Pós-Doutorado na Universidade de Princeton (Estados Unidos) em 2017 e na Universidade Federal do Rio de Janeiro (2022). Tem experiência em sociologia da educação, com ênfase nos estudos sobre desigualdades, pobreza, políticas de inclusão e de permanência no ensino superior da América Latina
Programação:
#01 Encontro – 05/03:
- O que é Educação Superior? Para que serve a Educação Superior? Por que pesquisar a ES e suas bases de legitimidade.
#02 Encontro – 12/03:
- O que é Democratização do Ensino Superior?
#03 Encontro – 19/03:
- Quem quer fazer ensino superior no Brasil?
#04 Encontro – 26/03:
- Modelos Institucionais da Educação Superior: a diversidade do sistema brasileiro.
#05 Encontro – 02/04:
- Pesquisa, Ensino, Extensão: o ideal de universidade no Brasil.
#06 Encontro – 09/04:
- Avaliação e Regulação: o quadro normativo para o sistema ES brasileiro.
#07 Encontro – 16/04:
- Governança / Sistema / Instituições.
#08 Encontro – 23/04:
- Lógicas Institucionais e a Financeirização da Educação Superior.
#09 Encontro presencial – 30/04:
- Seminário 1 – Educação Superior na América do Sul: Modelos Institucionais e Práticas Sociais.
#10 Encontro – 07/05:
- Formas Institucionais num sistema diverso: funcionamento do SES Chinês.
#11 Encontro – 14/05:
- Educação Superior, Credenciais e Mercado de Trabalho 1: Currículos, Certificados, Profissões.
#12 Encontro – 21/05:
- Educação Superior, Credenciais e Mercado de Trabalho 2: Egressos e empregabilidade/trabalhabilidade.
#13 Encontro – 28/05:
- Formas Didáticas, Tecnologias, EaD, Aprendizado.
#14 Encontro – 04/06:
- Comparação Internacional: Brasil e Argentina.
#15 Encontro – 11/06:
- Discussão sobre os trabalhos.
Informações do curso:
Período e carga horária:
De 5 de março a 11 de junho de 2026, às quintas-feiras das 18h às 21h. Carga horária de 45 horas/ 3 créditos. Curso online, apenas o encontro do dia 30 de abril será presencial.
Ementa e programação completa:
Versão para download (atualizada em 19/02/2026)
Online:
Link Zoom enviado aos inscritos.
Presencial:
Espaço Castro, Lessa e Conceição do Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ, Av. Rui Barbosa, 762 – Flamengo, Rio de Janeiro.
*Apenas o encontro do dia 30 de abril será presencial.
*Dúvidas relacionadas a assuntos educacionais: solangejorge@forum.ufrj.br